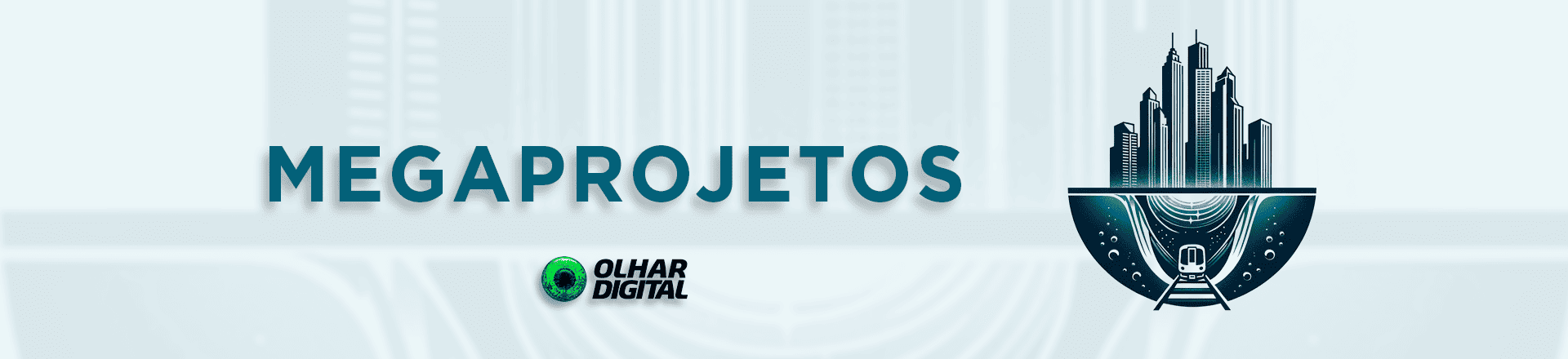
Pode parecer pouca coisa, mas não é. O trabalho de pessoas está sendo pouco respeitado. Tudo por culpa da terrível mania das plataformas de streaming de pular por conta própria créditos de abertura e de encerramento. Claro, eles oferecem a possibilidade de vermos desde o começo e até o fim. Mas por vezes é necessário certo exercício com o controle remoto para voltar à abertura ou cancelar a passagem imediata para o próximo episódio.
Tomemos por exemplo, entre inúmeros outros possíveis nas diversas plataformas disponíveis, a série Mad Men (2007-2015), uma das mais populares do catálogo da Netflix. O espectador que se entusiasma com maratonas (eu, pessoalmente, me incluo nesse grupo) vê os episódios na sequência e precisa forçar uma pausa para atender ao chamado da natureza ou saciar a fome com alguma coisa da geladeira. O serviço não o deixa parar por um momento, pois a lógica é a da captura a qualquer custo. Lembra o garçom de bar que, ansioso para fazer o cliente beber mais (e pagar mais), enche os copos de cerveja a todo instante, e já trás uma nova garrafa logo em seguida.
Pode acontecer, contudo, de o interessado querer saber quem dirige cada episódio, ou que música toca em tal cena, ou que atriz faz aquela participação especial que o surpreendeu. O fascinado por Mad Men entende, talvez ainda na primeira temporada, de que modo cada diretor ou diretora pode contribuir com os dramas que serão desvelados em determinados episódios.
Os episódios mais importantes, geralmente os últimos de cada temporada, mas não só, costumam ser dirigidos pelo criador da série, no caso, Mathew Weiner. Ele, aliás, é que dá o tom do que será a direção de cada episódio independente. Mas há nuances ignoradas pela frieza típica de fábrica de salsichas.
Michael Uppendahl, por exemplo, dirigiu 11 episódios de Mad Men (o único que dirigiu mais que ele foi Phil Abraham, com 15). Sua direção carrega um pouco mais na elegância, e por isso ele é normalmente o responsável pelos episódios que exigem ainda mais essa característica. Do mesmo modo, coube a Lesli Linka Glatter alguns episódios delicados na representação do relacionamento entre Don Draper e sua esposa das primeiras temporadas, Betty.
E assim por diante, numa série que inclui episódios dirigidos pelos atores John Slaterry (quatro), pelo protagonista Jon Hamm (dois) e até por Jared Harris, que dirige um episódio da sétima temporada, apesar de seu personagem ter falecido na quinta. Há, aliás, a clara percepção de que as quatro primeiras temporadas são melhor dirigidas que as três últimas, e que estas sejam mais feijão com arroz nesse quesito, sobretudo a última, que parece ter sido realizada a toque de caixa.
O descaso da maior parte dos espectadores por créditos faz com que os serviços descuidem desse aspecto. O mesmo acontece no que diz respeito às vozes originais dos atores ou às sutilezas da língua. Quem entende inglês perde muita coisa das séries americanas ou inglesas se não prestar atenção ao que é dito, e quem não entende e prefere ver dublado perde mais ainda, porque na necessidade de sincronismo com os movimentos labiais dos atores costuma-se deturpar alguns diálogos, quando não muda o sentido da trama.
Nada disso parece importar. O espectador, grosso modo, não se incomoda de ver apenas 60% do que foi criado, ou até menos. A lógica do encadeamento, afinal, o venceu. E é a mesma lógica da facilidade que a dublagem apresenta no lugar das legendas. Os problemas, então, são complementares. Quem busca atalhos costuma receber muito menos.

